|
Há muitos anos possuo vinis e cds do Harry, uma banda de Santos que marcou época no rock dos anos 80, um grupo sintonizado com o rock eletrônico e industrial da época, influências que iam de Alice Cooper a New Order, experimentações e um punhado de ousadia. Obviamente, tudo isso era indigesto demais para o público médio e o Harry não brilhou como merecia. Lançaram dois discos pelo inovador selo Wop-Bop, de René Ferri e que produziu outras peças de fino trato como May East, Vzyadoq Moe, Violeta de Outono, Fellini e etc. Achar material da banda na internet não foi complicado, mas eu queria uma entrevista com o criador da coisa, afinal nada melhor do que ele para contar, em detalhes, como tudo aconteceu.
Nada disso. Por trás da cara de mau, havia uma pessoa inteligente, divertida e ácida, que adora escrever e explica, em detalhes, como tudo ocorreu. Sim, a entrevista ficou longa. Sim, às vezes pode cansar. Mas as pessoas não se queixam que, muitas vezes, é difícil um materia interessante sobre certas bandas? Pois, então. Johnny Hansen conta tudo – e muito mais – sobre o Harry. E caso exista algum exagero ou mentira, não me culpe. Eu apenas tive o trabalho de ler, editar, aprender e me divertir com a matéria. Ah, sim, Hansen é um cara legal. Provavelmente dirá que essa não é a intenção dele, mas ele é. Mofo: – Como começou o Harry? Como era a cena roqueira em Santos? Vocês davam mais shows em SP do que no litoral?
Tocávamos na baixada no início, e a partir de 86, fizemos o circuito paulistano (Rose Bom Bom, Ácido Plastico, Anny 44), mas fomos praticamente ignorados. Isso me deixou sem chão, porque eu achava que o som estava muito bom, mas não sabia mais o que fazer. Foi quando um DJ disse que tinha um contato na CBS, e que não poderia garantir nada, mas que o cara escutaria qualquer coisa que ele levasse, só que em inglês não dava. Como eu não consigo cantar em português (é sério!), chamamos a Denise, que cantava no nosso projeto comercial, o Bi-Sex (roubei o nome dos australianos do Mi-Sex, porque sabia que ninguém os conhecia aqui). Mas a fita nem foi entregue na CBS, nem me lembro do motivo, mas eu soube que o René Ferri, da Wop-Bop estava começando um selo, e iria lançar o Violeta de Outono, e deixei a fita lá. Ele me ligou 3 dias depois querendo assinar. Naquela época, gravar um disco era a meta máxima, não que eu fosse dado a fazer concessões, mas já tinha feito gravando em português, então eu não tive coragem de perguntar se teria problema um vocal masculino em inglês. Infelizmente, quando soube que não teria, já era tarde demais. Desde o Self Destructor, a formação já era o César Di Giacomo na bateria, e o Renato Grillo no baixo (inclusive no Bi-Sex, que só era acrescido da Denise). Em fins de 84, o Johnsson voltou a Santos, e estava juntando grana para comprar algum teclado, mas no início de 85, o Grillo morre num acidente com arma de fogo, e ele teve que assumir o baixo. O Bi-Sex acabou logo depois, e eu não quis manter o nome Atmosphere, daí o Harry and (the Addicts), que fez sua estreia num bar em Santos, no dia 18/12/85. Não me lembro a data, nem onde estreamos em São Paulo, mas com certeza foi em 86.Éramos totais estranhos na cena roqueira santista. Eu tinha fama de grande guitarrista, mas quando assumi novos conceitos estéticos, onde a guitarra tinha um espaço bem limitado, o papo que corria em Santos era “o Hansen, coitado, tocava pra caralho, mas começou a se drogar, enlouqueceu e hoje só faz barulho”, ah ah ah ah ah…
Daí para o rock pesado da época (Purple, Sabbath) e mergulhar no que gerou aquilo e comecei a pesquisar os anos 60. Na época, eu tinha um conceito de que os 60’s é que tinham sido foda, que os 70’s não eram tão legais, mas sempre havia a distância entre ouvir e fazer. O punk rock ligou esses pontos, e para mim, os 80’s foram maravilhosos porque é sensacional você ouvir obras primas no mesmo instante em que elas são lançadas. O New Order sempre é a principal referência lembrada quando se fala da gente, mas eu não acho que haja nenhuma música nossa que pudesse ser confundida com eles, da mesma maneira que o Kon Kan era. Em 83, eu descobri o Chrome, que embora não seja parecido conosco, foi fundamental para que eu estabelecesse a estética sonora do Harry. O Skinny Puppy também, embora eu só curta mesmo a fase que vai até o Vivi Sect Vi. E bandas como Beatles ou Queen foram importantes no sentido de amplitude. Li uma resenha sobre a coletânea Chemical Archives numa revista alemã. O cara não gostou, porque achou que cada faixa parecia uma banda diferente. Eu concordo com ele, mas eu vejo isso como algo positivo.
Eu estava preocupado, porque até então o selo independente mais estabelecido era o Baratos Afins, e eu inclusive levara uma demo de ensaio (sem Denise) para o Calanca, mas quando voltei lá, ele nem mencionou o assunto. E eu já tinha ouvido falar que os discos que ele produzia eram gravados às pressas (não estou criticando, cada um faz com os recursos que tem), e com ele na mesa de mixagem. Para mim, isso ficou estabelecido como critério de gravação independente, e não me agradava nada, pois eu queria tempo e liberdade. Graças aos deuses, o René nos deu os dois, tivemos 60 horas para gravar as 3 músicas do EP (pode não ser o máximo, mas é melhor do que 12 horas para gravar um disco inteiro), e ele só foi no estúdio uma única vez e ficou menos de meia hora lá. O problema é que eu sabia muito bem o que queria fazer, mas não sabia COMO fazer. Botamos o Verta na produção, mas nem ele nem o técnico sabiam ainda como midiar uma Linn Drum (que era do estúdio) num Poly 800 (que era do Verta). Era só ligar um cabo de um a outro, mas simplesmente niguém tinha essa informação, e por isso os baixos de “Blood and Shame” foram tocados manualmente em cima da bateria programada.
O técnico, o Tonheco, não deve ter captado o espírito da coisa, mas ao menos não impunha barreiras como a maioria (“Eu sou técnico, sei como deve se fazer”). Ao contrário, quando regulei o flanger e o delay para minha voz, ele perguntou pelo mic da sala de controle: “vai gravar a voz desse jeito?”, e quando eu disse que ia, ele começou a rir e disse “vamos nessa”. “Caos” tinha uma guitarra, como “Adeptos”, mas tinha mais teclados, e eu sempre gostei de guitarra pesada e alta, e ela estava cobrindo a tecladeira. Fui abaixando, mas não adiantava muito. Como eu estava alucinado (cheguei perto de ter uma overdose durante a mixagem), zerei a guitarra e gritei “Foda-se!”. Depois me arrependi, e por isso coloquei a versão demo como bônus track, porque, embora a qualidade sonora não fosse boa, conceitualmente não conseguimos superá-la, mesmo gravando num grande estúdio. Já com o René, as coisas eram mais fáceis, ele estava, mesmo que, talvez, inconscientemente, totalmente sintonizado com nossa estética. Ele apareceu com a ideia da capa, quase se desculpando por que ela não teria o nome da banda. Eu acho capas sem nada escrito o máximo, mas achava que eu era o único louco que teria coragem de lançar um disco de estreia sem o nome da banda na capa, e aí aparece ele com a mesma ideia, e ainda com uma moldura em alto relevo em torno da foto, um adesivo com o nome da banda e encarte. Me senti como se estivesse na Factory, rsrsrsrsrs…
Então foi combinado que ela não gravaria o disco, para que pudéssemos reproduzi-lo ao vivo. Mas depois de uma briga homérica durante um show em Curitiba, ela saiu e depois quis voltar, mas mantivemos a porta fechada. O Verta foi convidado para produzir o EP por várias coisas: Assim, a solução natural foi convida-lo para se integrar a banda ao invés de simplesmente produzir o LP. Na verdade, não esperávamos que ele fosse aceitar, mas ele aceitou na hora. As negociações com o René, como sempre, foram fáceis. Eu disse à banda que iria pedir 100 horas para ele, para ver se ele daria pelo menos 80, mas ele disse “100? Ok, podem marcar”. Claro que não deu, e voltei lá e pedi mais 100 para ver se ele liberava mais 50 que fossem. De novo “Mais 100? Marquem lá”. Já com o disco pronto, ele veio até com uma ideia legal para a capa, mas em preto e branco, e dessa vez queríamos cores. O Verta foi fazer algo no Sesc Pompéia e estava rolando uma exposição do Araquém Alcantara, que embora fosse de Santos, não conhecíamos pessoalmente, e viu a foto que acabou sendo a capa e ficou alucinado. Entramos em contato com ele, que pediu uma verdadeira fortuna pelo uso da foto. Falamos com ele de novo, que éramos uma banda sem recursos, e ele “imagina se vão ficar sem usar a foto por causa de dinheiro”, e acho que ele baixou pela metade, mesmo assim era grana pra caralho. E sobrou para mim a missão de chegar para o René e dizer “olha, em vez daquela foto feita pela sua esposa (na época, a Célia Saito, que fez a capa do EP) e não vai te custar nada, queremos essa foto aqui, que vai custar essa montanha de grana”. Mas arriscamos e ele pagou. Valeu, afinal foi eleita 2ª melhor capa do ano na Bizz. O EP foi gravado no Transamérica, um puta estúdio, porque era Plano Cruzado e estava tudo barato. Um ano depois, a inflação voltou e teríamos que procurar algo mais condizente com a realidade. Escolhemos o Big Bang porque nos pareceu aconchegante e porque ele tinha um sampler Emax lá. Só que quando chegamos para gravar, ele tinha sido vendido. Chamamos o Marco Mattoli, o dono, e ele combinou que alugaria um sampler por alguns dias por conta dele, acabou sendo o D50 do Marcelo Golbetti (Premeditando o Breque), que acabou se tornando sócio no estúdio depois. A evolução foi por conta de vários fatores: o estúdio já não era um bicho de sete cabeças para nós, e mesmo o Big Bang sendo mais simples, tivemos melhor aproveitamento porque tanto o Mattoli como o técnico Yves Zimmelmann, sabiam explorar o que tinham até os últimos recursos (o Golbetti também ajudou bastante nos dias em que esteve lá). Nem tínhamos um sequencer decente, o Mattoli que sequenciava tudo no MC 500 dele. O Cesar e o Johnsson gravaram suas partes e picaram a mula, mas eu fiquei com o Verta até a ultima sessão de mixagem. Batemos uma vez ou outra de frente, mas o conflito de egos só viria mesmo durante o Vessels’ Town. Ainda estou bastante satisfeito com o resultado final do Fairy Tales, embora reconheça que a qualidade de áudio não é tão boa quanto eu pensava na época. Só o som da guitarra é que ficou uma merda mesmo, usamos equipamento top e gravamos de tudo quanto é jeito. Mas se na hora, eu tirava o timbre que queria, na fita o que vinha era outra coisa. E não tínhamos a quem perguntar, porque eu acho que não existe uma guitarra bem gravada aqui no Brasil, no mínimo, até o ano 2000. Mofo: – Os discos tiveram boa divulgação, renderam muitos shows? O problema para shows, que perdura até hoje, é que nunca tivemos uma pessoa para agendar shows para nós, e não somos os melhores vendedores do mundo. Mas um show digno de nota dessa época, foi no Crepúsculo de Cubatão, a casa do Ronald Biggs, no Rio. O Tom Leão estava lá na 1ª noite. Infelizmente, não conseguimos acertar o som direito, mas na segunda noite, o som saiu redondinho e o Fernando Naporano estava lá. E quem fez a mesa foi o Geraldo D’Arbilly, que tocou no Peso e depois na banda inglesa Blue Rondo A La Turk. Temos esse show gravado em vídeo. Já o Fairy Tales teve uma recepção inicial bem mais calorosa com resenhas de destaque na Folha, capa do Caderno 2, destaque na Bizz, uma crítica muito criativa do Ayrton Mugnaini Jr, na Somtres. Pena que foi aí que descobrimos que sem jabá é impossível manter a chama acesa. Já na época do Bi-Sex, a nossa demo rolava nas FMs de Santos, e sempre ficava em 2º lugar nas mais pedidas, e um dia um locutor me disse ‘”a de vocês é a mais pedida, mas o 1º lugar tem que ser do Tim Maia”. Meses depois, o René nos procurou, dizendo que ia bancar a gravação de mais 4 faixas, que seriam incluídas como bônus na versão em cassete. Eu perguntei a ele se ele não queria investir um pouco mais e lançar o CD, porque na época, teria sido o primeiro CD independente lançado aqui, mas ele disse que o CD não iria durar e o futuro da música estava no cassete (estavam lançado o tal cassete digital na época, o DCC, além da fita ADAT). Ele estava mais ou menos certo, mas na época era impossível prever que o vinil voltaria com força, e o CD demorou muito para mostrar que não seria tão durável.
O disco que o André Forastieri alegou ser nosso melhor trabalho, e eu só fui entender essa declaração quase 15 anos depois. O disco que saiu com problema de prensagem, a primeira tiragem (tem que ter havido duas, pq a primeira vinha com dois encartes, um envelope em papel fosco, e outro igual, mas em folha única e papel brilhoso; a segunda só vinha com um deles, já não me lembro mais qual). Ele também foi lançado em cassete e só fui ficar sabendo disso anos depois. O Vessels’ Town foi gravado apenas por mim e pelo Verta. O César já tinha saído pq a mistura de rock com eletrônico estava cada vez mais diluída (eu praticamente estava só cantando, e ele tinha cada vez menos e menos músicas onde não se usava a bateria eletrônica) e o Johnsson trabalhava em Cubatão, no esquema de turno, o que dificultava para shows, já que não havia como um cobrir um colega como normalmente se faz em horários fixos (por isso, o Marreco que tocou guitarra nas apresentações de lançamento do Taxidermy, chegou a substituir o Johnsson no baixo em vários shows, entre 87 e 88). Fora isso, trabalhar em Cubatão traz grandes prejuízos à sua saúde, e foi isso o que aconteceu com ele naquela época, ele ficou doente, os médicos pareciam não descobrir o que ele tinha, e por isso, ele apareceu uma única vez no estúdio Mosh, onde o disco foi gravado, já na fase final de mixagem. Mas nós o creditamos assim mesmo, afinal a maioria das músicas era dele. Se o Fairy Tales foi o meu disco (claro que todos colaboraram, mas todos entraram num barco para o qual eu já tinha apontado a direção), Vessels’ Town foi o disco do Verta. A essa altura, ele já não era mais apenas alguém com um pouco de maior experiência do que nós; ele já estava com um equipamento bem melhor, tinha feito cursos de programação na Roland, já tinha um domínio bem melhor da linguagem. O problema é que gravando em dois, fica aquele equilíbrio de 50 x 50%, sem ninguém para desempatar. O Yves Zimmelmann, o mesmo técnico que gravou o Fairy Tales, estava trabalhando lá, o que foi ótimo, porque além de ser um bom técnico (exceto em gravação de guitarra, mas ninguém na época poderia ter feito melhor), ele já estava sintonizado com nosso conceito e com o nosso estilo de fazer as coisas (embora, pelo que eu me lembre, ele não se drogava durante as sessões). Mas tudo rolou a contento, acho que o maior choque de frente foi em Stephanie Jensten: o Verta fez a programação da música, que começava com um sample de violão e terminava do mesmo jeito. Mas no estúdio, eu ouvi um sample de um teclado chamado PPG Wave, que me lembrou as coisas antigas do OMD, e nós o usamos no refrão e eu tive a ideia de todos os outros instrumentos irem sumindo até que só ficasse o som dele. Uma das diferenças entre eu e o Verta é justamente essa, ele esquematiza tudo antes, e procura seguir milimetricamente, enquanto eu me desvio do caminho, se achar que a nova rota pode ser mais interessante. Curioso que nenhum de nós pensou em fazer os dois mixes e depois decidir qual ficou melhor, ficamos brigando pelo final como se tivéssemos uma só tacada, e acabou prevalecendo o meu, porque eu aleguei que a música era minha, rsrsrsrs. O Verta fez a carranca dele e se deitou num sofá lá. No finalzinho da música, o teclado que estávamos usando não tinha polifonia suficiente para tudo que estávamos usando e quando entrou um dos últimos sons programados, o chimbal sumiu. Eu me viro pro Verta e pergunto o que fazer, e ele sem se mexer do sofá diz “se vira, a música é sua”, ah ah ah ah ah ah. Eu viro pro Yves e digo “deixa assim mesmo” (sempre fui menos preocupado com detalhes do que ele). Tempos depois, ele admitiu que a minha ideia tinha ficado melhor mesmo, e eu toda vez que o chimbal some, sinto aquela puta esvaziada na música, eh eh. Infelizmente, fomos para a Stilletto, que foi um dos selos mais interessantes que já surgiram nesse país, no momento em que eles começaram a ir a deriva. O disco foi mal distribuído, teve o problema de prensagem que sempre fazia alguma música do lado 1 pular, e teve pouca divulgação. De cabeça, eu me lembro de uma resenha na Ilustrada, se não me engano do Marcos Sá Leitão, onde ele concluía “Santos não é Manchester, é melhor” (eu só não entendo porque, não lembro mais se foi o Sá Leitão, ou o Marcos Smirkoff, que fez uma resenha do Fairy Tales na Bizz, nos colocando no topo, e na Bolsa de Discos, um deles classificou o disco apenas como regular), uma crítica negativa na Bizz, do Arthur Couto (que foi o primeiro cara da grande imprensa a nos dar apoio em seu fanzine Gass, e fez o release de divulgação do Fairy Tales), que nos acusou de termos nos rendido a dance music. Na época, fiquei meio envergonhado, porque achava que ele tinha uma certa razão, mas hoje vejo que ele não tinha entendido direito alguns conceitos do Verta da mesma forma que eu também não tinha entendido. Mas ouvindo hoje, em termos de qualidade de áudio, o Vessels’ Town dá um banho no Fairy Tales, e embora haja umas duas ou três músicas onde eu faria algo diferente, acho que ele envelheceu melhor. Fizemos uns poucos programas de rádio e um de TV (sem tocar, apenas sendo entrevistados) arrumados pelo divulgador da Stilletto, o César Cardoso (sobrinho do Wanderley), um rapaz bastante esforçado e de boa vontade. Ainda não tínhamos resolvido a questão das limitações técnicas para reproduzir as novas músicas ao vivo, e o César disse que assim que estivéssemos prontos para tocar, que ele agendaria mais TV para nós. Mas uma tarde o Verta me liga dizendo que o César tinha se desligado da Stilletto, e estava esperando para saber quem seria o substituto para dar continuidade ao trabalho. Passados alguns meses, sem ninguém nos chamar para nada, eu ligo para o Verta e pergunto quem era o novo divulgador do selo, e ele responde que simplesmente não haviam contratado nenhum substituto. Foi quando eu percebi que a Stilletto estava com os dias contados. Mofo: – Em 1996, vocês terminaram, antes de retornarem em 2005. O que você fez durante todo esse tempo? Nessa época, eu estava com meu projeto paralelo, o Bad Cock (embora o Verta e Johnsson tivessem os seus, respectivamente, Third World Fear e CPC, só eu levei a coisa mais adiante, fazendo shows), e pela falta de tempo dos outros, fazia mais shows com ele do que com o Harry.
Tivemos uma reunião com o René, detentor dos direitos dos fonogramas (ainda que as gravações master já estivessem em nosso poder) e compramos 5 ou 6 músicas, as da Stilletto já eram nossas, pq nunca houve contrato formal entre as partes, e gravamos 4 inéditas. Assim, nasceu a coletânea Chemical Archives, lançada entre o final de 94 e o início de 95 (um jeito elegante de dizer que não me lembro mais a data certa) e fizemos alguns shows para promovê-la. Em 96, fomos até o sítio do César, em Serra Negra, para gravar um disco novo por nossa conta, pois, a essa altura, o Verta já tinha um notebook com um Cakewalk. Tínhamos um novo membro, o Marco Costa, um dos primeiros fãs da banda, e que calhou de mudar para Santos e de ter um W30 igual ao do Verta. Então, nos ocorreu a ideia de fazê-lo se juntar a nós, porque tendo o mesmo hardware, poderia também substituir o Verta nos shows, já que ele andava cada vez com menos tempo. Fizemos shows alternados como trio e como quarteto nessa época. E o Marco também era baterista e, às vezes, o Johnsson ia para o baixo e retomávamos nossa raiz punk. Gravamos várias bases, mas nenhum vocal definitivo, apenas fizemos (eu e o Johnsson) algumas vozes guia. Mas o Verta acabou sendo transferido para o Rio, o Johnsson se mudou para o interior de SP e eu estava de mudança para Fortaleza, onde iria abrir uma loja de CDs. O projeto, ao qual nos referíamos como Black Hill Sessions (o Verta tinha uma sugestão de nome para o disco, esqueci qual era, mas lembro-me que a detestava, rsrs) acabou sendo abandonado. As faixas mais perto do final e com vocais guia mais razoáveis acabaram sendo incluídas como bônus no box Taxidermy. Com essa separação geográfica, uma pausa era inevitável. O último show nesse período foi apenas comigo e com o Marco (e foi gravado em MD) e depois fui para Fortaleza. Como eu me achava o mais interessado em carregar a bandeira, arrumei um tecladista lá, o Paulo Eduardo, e chegamos a gravar uma faixa do New Order para um tributo, usando o nome Harry. Mas nos 9 anos em que lá fiquei, nos apresentamos apenas duas vezes, uma em Fortaleza mesmo, e outra no festival Electrone, em Recife. Eu voltaria de lá para o lançamento do Taxidermy, em 2005, apenas para o show de lançamento, mas acabei ficando por aqui de vez.
Um selo, do Sul, se não me engano, o RDS, lançou o catálogo da Wop-Bop em CDem 2000 ou 2001, incluindo o Fairy Tales, mas: 1) O som é péssimo, não sei o que usaram como fonte, já que as masters estavam com o Verta. Foi revoltante ter que entrar no Extra (por alguma razão, a coleção da Wop-Bop foi distribuída na rede em todo país, para um público que provavelmente nunca ouviu falar daquelas bandas), para ter que comprar um disco da minha própria banda. Em 2004, antes do conceito do box, o Rodrigo Lariú (do selo Midsummer Madness) entrou em contato com o Verta, interessado em lançar o Fairy Tales e o Vessels’ Town em cd, com faixas extras, mas separadamente. Eu, que ainda estava no Ceará, e o Verta passamos semanas no telefone discutindo sobre quais extras entrariam ou não. Começamos a pensar em shows. Nessa época, o Cesar tinha um trio, mais por diversão do que outra coisa, chamado Avalanche, que tocava covers e muito do nosso material. O Avalanche era formado por ele, o Marreco (que já tocara baixo em shows conosco) na guitarra, e o Lee Luthier no baixo. Considerando que o Cesar era ex-membro, eles estavam afiados no nosso material, a distancia geográfica que nos separava, e o fato de que o Midsummer Madness era um selo mais voltado para guitar bands, resolvemos que usaríamos o Avalanche como banda de apoio nos shows. Mas, ainda em 2004, o Alex Nakanda (ex Vanishing Point e ex Cybernetic Faces) gravou uns 4 ou 5 covers do Harry e postou no site da Fiber, mantido pelo Enéas Neto, e a principal referencia na música eletrônica por aqui. As músicas bateram o recorde de downloads do site, surpreendendo tanto o Enéas como a nós mesmos, que não achávamos que o Harry ainda gerasse algum interesse. Daí nasceu a ideia do box contendo os 2 álbuns e o EP. Conversamos com o Lariú que levou de boa, não descartando um disco de inéditas no futuro, e usamos as faixas gravadas em Serra Negra para entrarem como bônus tracks. Além disso, a Fiber promoveu um concurso de remixes, no qual os 2 vencedores teriam suas faixas incluídas no box. Fizemos o show de lançamento em 2005, tocando junto com a banda belga The Neon Judgement, e mais alguns no circuito de SP. Ficou difícil shows em outros lugares, pois o fato da banda contar agora com 6 membros (ao vivo, para futuras gravações, seria mantida a formação do Fairy Tales) inviabilizava transportes e hospedagens. O último show foi no Centro Cultural Vergueiro no final de 2006. Além do que, os outros tinham pouco tempo para a banda devido a seus afazeres. Eu, como estava desempregado depois que fechei a loja, ao menos tinha tempo para compôr material novo, e era frustrante não dar vazão a ele. Assim, em 2009, caí fora e montei o H.A.R.R.Y. and The Addict com o Ricardo Santos. Fizemos várias músicas novas e regravamos alguns clássicos do Harry antigo, que não foram lançados oficialmente, mas estão disponíveis na net. E fizemos nossa estreia abrindo para a clássica banda belga Vomito Negro, ao mesmo tempo em que estava sendo lançado o tributo Sky Is Grey, com outras bandas tocando nosso material. Infelizmente, esse começo promissor foi esfriando, pela falta de espaço numa cena que só tem encolhido nos últimos anos, fizemos uma meia dúzia de shows em 2009 (a partir de nossa estreia em julho), 2 shows em 2010, 1 em 2011 e só, até agora. Eu me mudei para São Thomé das Letras, mas continuava indo regularmente a Santos, onde nunca deixei de ensaiar com o Avalanche. Daí surgiu a base do que seria o novo projeto.
Mofo: – Gostaria que fizesse um paralelo sobre a cena independente dos anos 80 com a atual. Converso com muitas pessoas e elas reclamam que o espaço hoje é bem mais reduzido, o interesse do público é bem menor e que muitos locais oferecidos possuem condições precárias. É isso mesmo? Não é uma questão de gosto músical: pode conferir que os fãs de funk/pagode/axé não sabem escrever, não reconhecem uma ironia e aceitam qualquer ideia que lhes é impingida, por mais absurda que seja. Isso é ótimo para governos que querem se perpetuar no poder a troco de panis et circensis e bolsa isso ou bolsa aquilo, mas para quem trabalha com cultura, é um pesadelo. E, infelizmente, o fenômeno parece mundial, tanto que as grandes bandas e artistas tem preferido fazer turnês tocando seus álbuns clássicos na íntegra do que promover novos trabalhos.
Resolvemos regravar o Fairy Tales apenas com guitarra, baixo e bateria. Na verdade, regravamos 7 das 10 faixas, porém acrescentamos 9 inéditas (uma boa parte composta naquela época, e umas poucas novas mesmo). Eu tinha visto o video da série Classic Albums relativo ao Never Mind The Bollocks, dos Sex Pistols, um disco que até hoje soa bem produzido (afinal, o produtor Chris Thomas, foi o mesista do Álbum Branco), e vi o engenheiro de som Bill Price mostrando a parede de guitarras que o Steve Jones (um dos unsung heroes do instrumento) construía gravando várias vezes as bases uma por cima da outra.
E finalmente, creio que consegui diminuir a distância entre conceito e resultado final. O Johnsson acabou ouvindo os bounces (uma amostra não mixada e não timbrada, feita geralmente logo após a gravação para referência) e se interessou pelo projeto com ele já em andamento, e veio para Santos e gravou teclados (sem nada programado, tudo tocado a mão) nas faixas, que ainda serão mixadas. A questão é decidir o que fazer com elas. CDs perderam todo o atrativo. Gostariamos de lançar em vinil, mas sai muito caro, e teria que haver algum selo interessado. Talvez montemos uma capa e botemos para baixar gratuitamente na net mesmo. E fora dos Sesc da vida, não há muito espaço para shows (cansamos dos buracos alternativos, sem equipamento, sem pagamento e ainda nos tratando como eles estivessem fazendo um favor em nos deixar tocar em seus porões), mas na hora não pensamos, fomos lá e fizemos. Ainda não sabemos também com que nome lançaremos esse trabalho.
Pensei em usar The Yardrats de novo, afinal é um trabalho que remete a nossas origens, mas um anime japonês está usando um nome parecido e isso iria ferrar com a busca no Google (para a qual, o nome Harry já é um problema). Deveremos manter o nome Harry (and the Addicts) mesmo, ficarei com 2 projetos de nome parecido, mas não posso resolver todos os problemas do mundo. Encerrando, gostaria de agradecer a você e ao seu blog pela chance de uma entrevista tão detalhada, e reconheço que fazer um trabalho assim por aqui, exige uma dose de insensatez tão grande quanto a necessária a mim para continuar fazendo música nesse lugar após tantos anos de obscuridade. Mas vamo que vamo… Para quem quiser conhecer a música do Harry, basta acessar esses endereços: http://soundcloud.com/hansenharryebm http://soundcloud.com/h-a-r-r-y-and-the-addict http://www.reverbnation.com/johnnyhansenhansenharryebm http://hansenharryebm.tnb.art.br/ http://harryandtheaddict.tnb.art.br/ http://www.myspace.com/harryandtheaddict Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima coluna! Discografia Caos EP (1987) |



 Assim, escrevi para Johnny Hansen, via facebook. Pensei que viria uma resposta atravessada, amarga e ranzinza, algo na linha “só depois que terminamos é que me procuram para uma matéria”, como várias vezes trombei, ao longo dos anos.
Assim, escrevi para Johnny Hansen, via facebook. Pensei que viria uma resposta atravessada, amarga e ranzinza, algo na linha “só depois que terminamos é que me procuram para uma matéria”, como várias vezes trombei, ao longo dos anos. Quando o Johnsson foi estudar fora de Santos, formei o TTF (Tubular Teacher Forever), depois o Jean Cocteau (as influencias do Bill Nelson, do Be Bop Deluxe começavam a se manifestar), o V8 (eu não sabia que havia uma banda de metal argentina com o mesmo nome, não consegui achar um nome substituto e acabei com a banda), Self Destructor, Atmosphere e finalmente Harry and the Addicts, em 1985.
Quando o Johnsson foi estudar fora de Santos, formei o TTF (Tubular Teacher Forever), depois o Jean Cocteau (as influencias do Bill Nelson, do Be Bop Deluxe começavam a se manifestar), o V8 (eu não sabia que havia uma banda de metal argentina com o mesmo nome, não consegui achar um nome substituto e acabei com a banda), Self Destructor, Atmosphere e finalmente Harry and the Addicts, em 1985. Mofo: – Quais eram as suas grandes influências? New Order, Skinny Puppy, Kraftwerk, Moroder?
Mofo: – Quais eram as suas grandes influências? New Order, Skinny Puppy, Kraftwerk, Moroder? Mofo: – Vocês tiveram um primeiro EP com a Denise nos vocais. Me fale da produção desse trabalho, lançado pela Wop-Bop, e o contato com René Ferri.
Mofo: – Vocês tiveram um primeiro EP com a Denise nos vocais. Me fale da produção desse trabalho, lançado pela Wop-Bop, e o contato com René Ferri. Nas outras faixas, “Caos” e “Adeptos”, o Cesar tocou numa Simmons. Os vocais foram processados com pedais de guitarra mesmo. Pusemos uma regulagem mais discreta para a Denise, mas em “Blood and Shame” coloquei do jeito que eu queria, pois eu não me importava se nem percebessem que aquilo era voz.
Nas outras faixas, “Caos” e “Adeptos”, o Cesar tocou numa Simmons. Os vocais foram processados com pedais de guitarra mesmo. Pusemos uma regulagem mais discreta para a Denise, mas em “Blood and Shame” coloquei do jeito que eu queria, pois eu não me importava se nem percebessem que aquilo era voz. Mofo: – Fale da gravação de “Vessels’ Town, pela Stilleto e do “Chemical Archives”, pela Cri du Chat.
Mofo: – Fale da gravação de “Vessels’ Town, pela Stilleto e do “Chemical Archives”, pela Cri du Chat.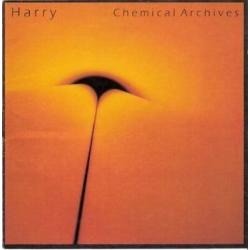 Isso foi até 1994, quando o Enéas Neto, na época a frente da loja Muzik e do selo Cri Du Chat, manifestou interesse em relançar material nosso em CD, já que com exceção das faixas nas coletâneas (inclusive Zombies num cd que veio encartado na revista Audio News), a maior parte do material era inédita nesse formato.
Isso foi até 1994, quando o Enéas Neto, na época a frente da loja Muzik e do selo Cri Du Chat, manifestou interesse em relançar material nosso em CD, já que com exceção das faixas nas coletâneas (inclusive Zombies num cd que veio encartado na revista Audio News), a maior parte do material era inédita nesse formato. Mofo: – Fale então sobre o box, Taxidermy – Boxing Harry, um apanhado de toda a carreira da banda e músicas inéditas.
Mofo: – Fale então sobre o box, Taxidermy – Boxing Harry, um apanhado de toda a carreira da banda e músicas inéditas.
 Mofo: – Hansen, agradeço a entrevista Fale dos projetos futuros seus e da banda. E deixe um recado aos fãs..
Mofo: – Hansen, agradeço a entrevista Fale dos projetos futuros seus e da banda. E deixe um recado aos fãs..
 O H.A.R.R.Y. and The Addict ainda existe, e também está com gravações novas em fase de mixagem.
O H.A.R.R.Y. and The Addict ainda existe, e também está com gravações novas em fase de mixagem.